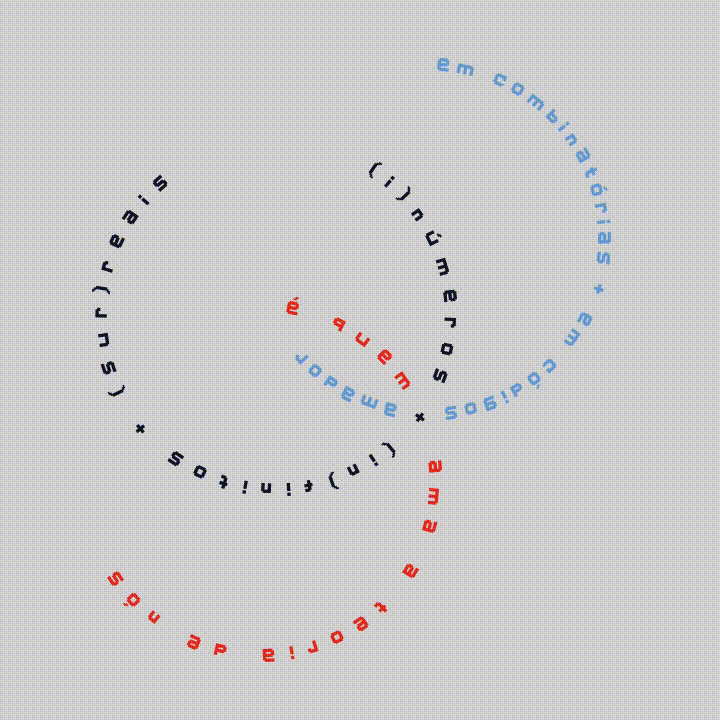Acontecimentos sem fim

Nesta coluna, tive uma conversa por e-mail com a poeta Julia de Souza sobre o seu recém-lançado As durações da casa (7letras, 2019). Repleto de diversas anatomias (da casa, mas também da escrita, do corpo, do gesto), este livro propõe um exercício de percepção do tempo: ora pela casa e suas ruínas e seus tempos, ora pelas pausas e hiatos criados que permitem um recomeço constante. Se chegamos a capturar um instante da casa, logo o mato pode crescer e invadir tudo, refazendo os limiares, o dentro e fora, os lugares móveis e os fixos. “O olho nos funde ao imenso fora” e aqui as descontinuidades são sempre revistas. Como avisa o prelúdio, “Que os animais/ os animais e as casas são os únicos acontecimentos sem fim.” Talvez o poema também.
Como foi o processo de escrita de As durações da casa?
O processo foi bastante lento — uma lentidão talvez esperada quando se fala em “durações”. O Covil, meu primeiro livro (de 2013), foi uma espécie de expulsão: nasceu depois de um momento em que a fala e a linguagem tinham me faltado. Quando comecei a escrever, o que saiu foi bastante gago, trôpego — como um filhote que começa a se deslocar, engatinhar, mas ainda não tem muito controle sobre esse movimento. Logo depois de o livro sair, surgiu uma proposta de publicar inéditos na revista piauí. E eu não tinha quase nada novo, mas lembro que aquele momento foi bastante fértil: eu estava recuperando alguma dicção e me aproximando de forma mais frontal dos temas que de fato me mobilizavam; entre eles, a casa, que é uma casa antiga, que existe, a casa onde cresci; e o conflito entre a vontade de conhecê-la melhor, transcrevê-la — ou deixá-la para trás. Esse poema que saiu na piauí (“Poema para esgotar a casa”) foi o pontapé inicial do livro, uma espécie de start, uma largada: é preciso esgotar a casa; a casa em sua decadência, tristeza, fantasmagoria — seu consumo; mas para esgotar a casa é, seria (ou foi?) preciso ficar mais um pouco. E, assim, depois dele vieram muitos outros, que compuseram o livro: alguns olham para a casa com menos amargura, considerando seus vários humores, suas aberturas e tempos sobrepostos.
Seu livro trabalha com diversas “anatomias” — da casa, da escrita, do corpo, do gesto —, mas parece que não são anatomias para encerrar uma descrição fechada, e sim para propor outros ângulos de leitura, para abrir as janelas e deixar o mato entrar, ou seja, para refazer essas próprias descrições. Faz sentido isso? De que maneira você pensa a relação entre essas diversas anatomias?
Existe esse clichê que diz: nosso corpo é nossa casa. Talvez eu tenha, um pouco intuitivamente, tentado inverter essa ideia: nossa casa é o nosso corpo. Acho que a minha relação com essa casa — e com outras casas que habitei intensamente — tenha se dado a partir de um senso de continuidade entre o espaço e o corpo. E fui percebendo que essa questão do corpo se reflete bastante na escrita também. O lugar a partir do qual escrevemos e olhamos para o mundo, o lugar de onde sai a voz... tenho a impressão de que são lugares móveis, instáveis, ligados ao sensível mas também à ação, à escrita do poema: dependendo do ponto de onde partimos (ou de que cômodo da casa), a escrita nos leva a um lugar ou outro. Se leio em voz alta um poema durante sua escrita, ele deve tomar um rumo e um corpo que não tomaria se eu o mantivesse em silêncio. Acho que a palavra “anatomia” só foi possível depois que comecei a olhar de fato para a estrutura dos poemas, da casa, e sua relação com o meu próprio corpo. As coisas em volta nos mobilizam, assim como as palavras podem deturpar ou fortalecer um poema. Tive uma vontade de mapear os procedimentos, os movimentos, as repetições... acho que fiquei atenta a isso: o corpo é algo que se repete — e se repete também no poema.
Existe uma dimensão metalinguística em vários poemas e, entre as descrições do gesto de escrita, gosto do verso sobre o “poema-músculo que anula o tédio” — há momentos em que os textos deste livro parecem poemas-músculo, como se houvesse um exercício de escrita, um “workout”, que pode ser visto na construção dos poemas, nas imagens. Você poderia comentar essa parte material do processo de escrita? Existe algum poeta na tradição de poetas da metalinguagem que esteja mais presente na sua escrita?
Sempre me lembro do trecho de um ensaio do Ricardo Piglia em que ele compara a criação artística (e também a psicanálise, mas isso não vem ao caso) à natação: o artista, ou o poeta, já conseguiu nadar, mas não sabe se vai poder nadar novamente quando “entrar na linguagem”. Essa associação com o esporte, com a transposição do corpo, implica a criação num exercício deliberado, numa atitude de esforço, trabalho. Mas quando ele fala da incerteza (não saber se vai ser capaz de nadar outra vez), está aceitando o componente de mistério da escrita. A Anne Carson, aliás, disse que “a intuição é a forma mais profunda de saber”. Acredito nas duas coisas, e concordo que muitos poemas do livro são intumescidos, suados — mas acho que os poemas mais “musculosos” do livro são aqueles que foram disparados por algum coração, algum descontrole.
Eu falo do “poema-músculo”, com P maiúsculo e em seguida questiono essa tendência de dar conta de tudo em um só poema. Roubei essa ideia dos “pês” maiúsculo e minúsculo de um ensaio do Ben Lerner, em que ele opõe o “poema virtual”, idealizado, ao “poema real” — o poema possível. O exercício, o workout, também põe em evidência o aspecto de déficit de todo poema. E talvez o exercício seja a mesma coisa que a insistência, “um teste de resistores”, como diz o seu livro, ou uma escalada até o ponto final. E a metalinguagem tem a ver com isso, né? Uma linguagem que insiste em si mesma. Mas acho que essa linguagem reincidente é perigosa também, porque pode cair na armadilha de uma ruminação ou uma espécie de lamento por não se ter alcançado o (impossível) poema com P maiúsculo. O desafio da metalinguagem é não torná-la uma asfixia.
Gosto muito dos poemas metalinguísticos do Drummond. Tem aquele “Gastei uma hora pensando um verso” que “Está cá dentro/ mas não quer sair”. O que a princípio parece um lamento se renova nos versos finais: “Mas a poesia deste momento/ inunda minha vida inteira”. É, no fim, um poema sobre a potência de não escrever o poema “virtual”.
Também gosto demais da metalinguagem construída pela Ana Martins Marques, porque ela extrapola os limites do poema, e pensa também o espaço do livro e o ato da leitura. O poema “Capa”, por exemplo (“Um biombo/ entre o livro/ e o mundo”), se espelha no poema “Contracapa” (“Um biombo/ entre o mundo/ e o livro”). São o primeiro e último poemas da primeira parte de O livro das semelhanças, que propõe uma espécie de anatomia do livro e do gesto de leitura.
Me chamam atenção nos seus poemas os marcadores temporais (começo, fim, pausas, limiares temporais) e uma ideia particular (ou não-linear?) de tempo. Fiquei pensando no sentido da palavra “durações” do título. Você poderia falar um pouco sobre o título e essa relação com o tempo?
Talvez exista na minha escrita uma busca um pouco ambivalente: interromper a ilusão de continuidade do tempo e, ao mesmo tempo, investigar a ideia de duração. Eu trato de uma casa que parece, muitas vezes, estar à beira do colapso, do desaparecimento, da ruína; mas nela também há espaço para os tempos alargados da espera, dos sábados, do tédio, e para perceber esses tempos que se acumulam numa casa antiga, o tempo que tomamos para digeri-la, para perceber as coisas que sempre estiveram ali.
Em certo momento desse período extenso de produção do livro, li o ensaio “Elogio ao amor”, do Alain Badiou. E lá ele define o amor como o “duro desejo de durar”, uma formulação muito bonita. Associei a ideia à minha relação com a casa: minha teimosia em preservá-la de alguma forma, mesmo sabendo que é preciso esgotá-la. Acho que o título do livro veio daí.
E ao longo do livro aponto também para outras formas de duração, como no poema sobre as pinturas rupestres; o tempo da escrita, o tempo dos gestos antigos, os lapsos, os ciclos, as coisas que poderiam ter sido e não foram... Mas meu interesse não é insistir na ideia de duração para fundar ou atestar uma permanência, e sim pensar naquilo que esse desejo de durar instiga; e também no impasse entre a duração e o desparecimento.
Você poderia contar sobre o processo de escrita do poema “Happy end”? Ele parece uma espécie de arte poética que abarca muitas questões que estão presentes no livro (por exemplo, a escrita da casa e a escrita pela casa).
Alguns amigos me sugeriram que o “Happy end” entrasse como o primeiro poema do livro. A princípio ele seguiria seu título à risca, e seria o último — e de fato foi o último a ser escrito. Mas acho que enxergaram nele um frescor que se espelha naquela vontade de começo que aparece no “Poema para esgotar a casa”. E esse frescor é também uma vontade nova na minha escrita: talvez algo na casa tenha mesmo se esgotado no processo, e seja hora de olhar para tudo aquilo que é “ao vivo” — deixar de escrever apenas sobre o que se perdeu, e estar atenta para aquilo que está verde ou latente. Mas de fato retomo (ou antecipo), em “Happy end”, alguns temas e procedimentos insistentes no livro: as repetições, o corpo, a produção do poema, os bichos, as mãos, a possibilidade da loucura... e também faço uma espécie de reconhecimento de corpo do livro, pensando aquilo que ele foi e não foi, e até mesmo questionando o lirismo de tantos poemas. Mas o “Happy end” não é um poema que tem a casa como objeto. Foi um poema escrito a partir de uma casa já revisitada.
Lembro de ter escrito o “Happy end” num momento de alguma clareza — não sei bem como descrever, mas associo essa clareza à chegada de boas notícias. Uma disposição para o diálogo, para algum futuro, para o fora da casa, ainda que a escrita seja, muitas vezes, uma atividade doméstica. Percebi que gosto mais de escrever quando sinto alguma alegria ou vigor, mesmo que esteja escrevendo sobre temas difíceis. A escrita da casa pela casa aconteceu quando, de dentro dela, olhei para o quintal — e reparei no verde daquela folha imensa da Costela-de-adão.
(trecho inicial do poema “Happy end”)
1.
Escrevo em frente a uma janela grande
que dá para o quintal.
Às vezes bate sol e é bom
às vezes vem um passarinho com a cauda azulada
às vezes não escrevo
e fico só olhando os ossos verdes
da costela-de-adão.
2.
Sinto muita preguiça e muita
vontade
vou catando coisas pela casa
juntei por exemplo cartelas
vazias de remédio
que não deixam de ser
uma biografia.
Reunir os fragmentos, chegar ao poema
é tarefa que adio o quanto posso.
3.
As abelhas estão
de volta. Tenho uma premissa.
Lembra: o som é uma invasão.
4.
O lirizzzmo pode sofrer atravessamentos?
O lirizzzmo é um embrulho?
[...]
***
Marília Garcia nasceu em 1979, no Rio de Janeiro. Publicou, entre outros, Um teste de resistores (7letras, 2014) e Câmera lenta (Companhia das Letras, 2017; vencedor do Prêmio Oceanos de Literatura 2018).
- Seções em destaque
- Da Casa
- Diários do isolamento
- Entrevista
- Eventos
- Lançamentos
- Listas
- Notícias
- Rádio Companhia
- Sala do Editor