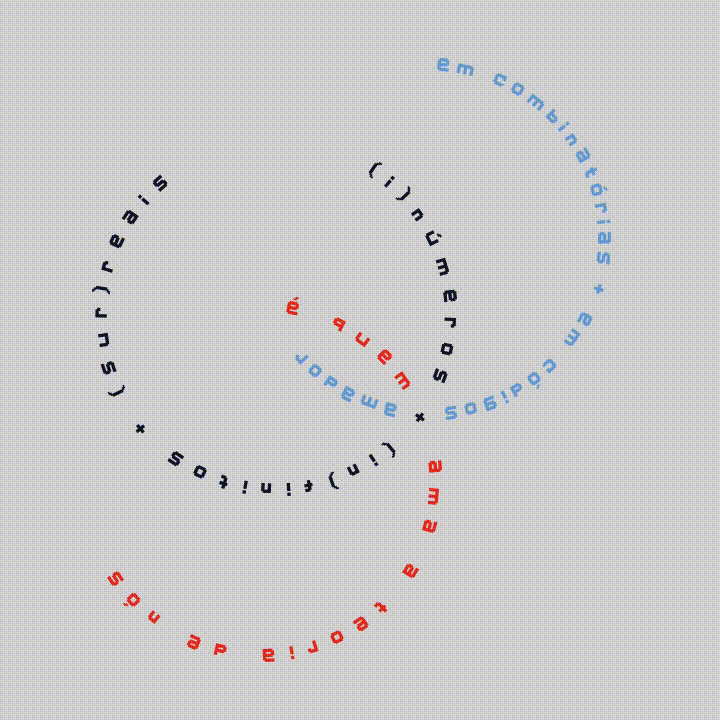Nunca, nunca

Imagem: Carrie Mae Weems, “The Kitchen Table” Series, 1990
Quando tinha dois anos, fiz uma queimadura na mão esquerda, com o ferro de engomar. Tentava imitar a minha mãe, que passara a manhã a engomar roupa, e se ausentou por momentos da sala, sem imaginar que eu arranjaria maneira de subir a um banco, para imitar o que a tinha visto fazer. Sem que eu o soubesse, a queimadura na mão tornou-se um primeiro foco de atrito entre a menina que era e o mundo exterior. Bem antes da batida pergunta “e a menina, de onde é?”, veio a pergunta: “o que é que tens na mão?”, feita por adultos e, sobretudo, pelas outras crianças, que olhavam para a queimadura com uma curiosidade enojada.
Relembrei-me da queimadura, que se tornou com os anos, parte do todo do meu corpo, a ponto de me esquecer dela, ao ler as “Palavras prévias”, que abrem o último livro de ensaios da filósofa portuguesa Maria Filomena Molder, Dias Alegres, Dias Pensantes, Dias Fatais (Lisboa: Relógio D’ Água, 2017). Nessa nota breve, a autora explica a origem da imagem que ilustra a capa do livro:
“A capa foi concebida a partir de um desenho da minha mãe, que eu, desde pequena, tentei imitar sem qualquer êxito.
Nunca, nunca fui capaz de manter o rigoroso fluido criado pelas ligações magnéticas entre as linhas perpendiculares e horizontais, inscritas nos braços de uma cruz grega.
Era muito frequente vê-la desenhar esta figura fascinante.”
A nota de Molder continua, mas a minha atenção ficou naquele “nunca, nunca”, em que nem uma vida inteira chega para a mulher imitar o que a menina via a mãe fazer com tanta frequência.
*
Tenho pensado nesta incapacidade e no momento que a precede, aquele em que uma menina se fascina com a sua mãe, querendo imitá-la, como um momento fundador e importante na vida de muitas meninas e mulheres. Procurando por figurações desse momento, regressei à série icónica “The Kitchen Table” Series (1990), da fotógrafa americana Carrie Mae Weems.
As fotografias de “Kitchen Table” Series apresentam-nos o avesso da cozinha como lugar da fada do lar. Uma mulher (a própria autora) e algumas pessoas da sua vida — um homem, amigas, a filha, outras crianças — convivem à volta de uma mesa de cozinha. A sequência acompanha o correr dos dias, com seus dramas, prazeres, alegrias, repetições. Numa imagem, outra mulher estica o seu cabelo com um pente quente. Noutra, a mãe acompanha a filha, enquanto ela faz os deveres da escola. Ou, conversa com o seu homem, à volta de amendoins e whisky. Noutra imagem, o mesmo homem ignora-a, lendo o jornal, enquanto, num plano recuado, a mulher silencia um desconforto. Se, num clímax, Carrie nos surge, de frente para a câmara, num auto-retrato desafiante e, noutra imagem, aparece despida, costas sobre a mesa, talvez tocando-se; noutra, conta as suas tristezas às amigas, que a ouvem, em silêncio, como se dissessem que nada há a fazer.
A mulher, e todos os outros, são iluminados à mesa pelo candeeiro, personagem constante, que define o jogo de sombras, deixando-nos, de imagem para imagem, à espera de descobrir a quem a luz ilumina e o que escolhe obscurecer. A iluminação define as variações e tonalidades da liberdade da mulher. Se a cabeceira lhe pertence (quase sempre), a vida talvez não lhe pertença completamente e haja que equilibrar-se entre imprevistos e necessidades: visitas, obrigações, a maternidade, o desejo, o sofrimento. A sequência termina com a mulher à mesa, jogando solitário (depois de todos terem saído?), frente a um baralho de cartas. Talvez, nesta sequência, a cozinha, enquanto lugar de confronto entre o mundo lá fora e o interior da mulher, se encaminhe para a reclamação do direito dela à sua própria solidão.
Na imagem que mais me toca, a mãe pinta os lábios a um pequeno espelho, enquanto a filha a imita, pintando os lábios também, noutro espelho, ao seu lado. Pintar os lábios na cozinha surge como transmissão de um legado, uma sinalização da busca da beleza, no que esta tem de pessoal, por oposição a um padrão definido fora do âmbito daquelas quatro paredes e das auto-imagens que os pequenos espelhos das duas reflectem. Mas esse momento entre mãe e filha, tão comum na vida de muitas mulheres (mesmo que não de todas, por inúmeras razões) é o ponto em que “Kitchen Table” Series conversa com aquele “nunca, nunca”, de Maria Filomena Molder, sob a forma de interrogações para a quais não existem respostas precisas. Quando começa uma mulher — ou qualquer pessoa? O que tenta a filha imitar: e talvez a mãe corrija, pintando-lhe ela os lábios, com a sua mão segura? Porque queremos tanto, tanto, crescer, quando somos pequenos? Talvez comecemos, também, no nosso fascínio perante as coisas tão difíceis que as pessoas à nossa volta parecem fazer com tanta destreza e tanta graça, coisas que, tentando repetir a vida inteira, nos deixam sempre queimados.
***
Djaimilia Pereira de Almeida (Luanda, 1982) é autora de Esse cabelo (2015), Ajudar a cair (2017) e, mais recentemente, Luanda, Lisboa, Paraíso (Companhia das Letras Portugal, 2018; a ser publicado no Brasil em 2019). Vive em Lisboa.
- Seções em destaque
- Da Casa
- Diários do isolamento
- Entrevista
- Eventos
- Lançamentos
- Listas
- Notícias
- Rádio Companhia
- Sala do Editor