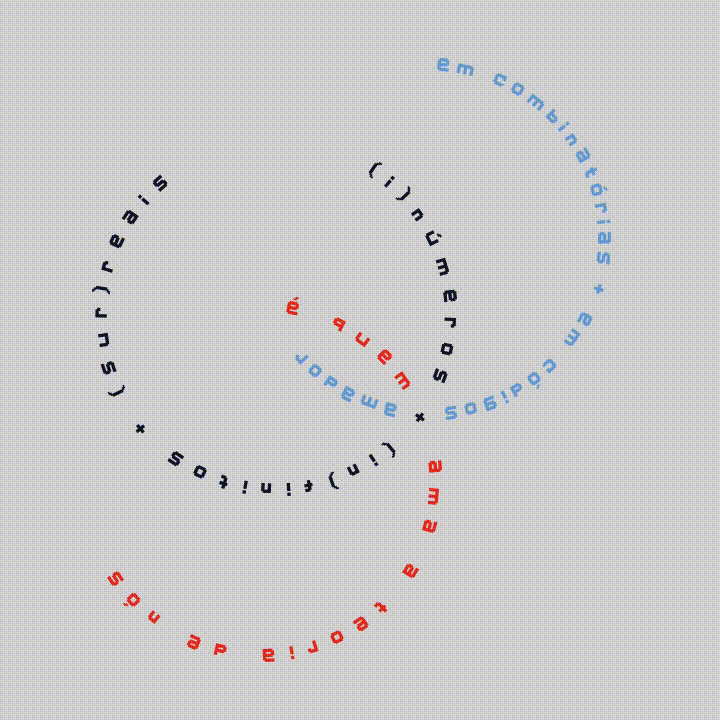Em tradução (todo o resto)

Foto: Annie Otzen/ Getty Images
Dia desses eu estava lendo com os alunos um texto de teoria da tradução; coisa lá dos anos 70, quando os teóricos começaram a se voltar mais diretamente pra prática, pra atividade real dos tradutores. E num dado momento o texto falava da dificuldade de se traduzir culturas.
O exemplo ali, era uma cena hipotética de algum romance inglês, em que o narrador comentasse sem maior estranhamento que, ao chegar em casa e encontrar sua filha, o pai a cumprimenta com um selinho. A questão, afinal, é que para certo público (supostamente os ingleses daquela geração), esse gesto seria mero ritual familiar. Sem maiores significados. Lido em outros locais, no entanto (e a essa altura a gente se vê mais do que obrigado a acrescentar o dado temporal; a passagem dessas décadas todas), aquilo pode parer estranhíssimo, e levantar uma lebre gigante tipo “onde é que vai dar essa subtrama incestuosa que pipocou na página 47 e até agora não voltou a ser comentada!!”
O que o texto aventava, como motivo para discussão, era a eventual adequação de se traduzir “kissed his daughter on the lips” (deu um beijo na boca da filha) por algo como “deu um abraço na filha”. Ou um beijo, sem maiores especificações.
Eu vivo azucrinando os alunos com a ideia de que muitas vezes (se não todas) você não está querendo traduzir o que um texto DIZ, mas sim o que ele FAZ. E esse é um caso extremo. O que o texto faz é registrar que ao chegar em casa o pai cumprimentou a filha de uma maneira típica. Eu tenho autorização para alterar de leve o significado das palavras (o que o texto DIZ) e, com isso, deixar de criar um fantasma que nem aparecia no original?
*
E não precisa ser tão violento. A incomensurabilidade dos sistemas culturais (uia!) nunca deixa de criar atrito. Traduzir de uma língua pra outra (mais uma coisa que eu vivo repetindo pros coitados dos meus alunos) é muitas vezes o menor dos problemas. E o mais facilmente resolvível.
Logo na primeira cena de Exiles, a única peça de teatro de James Joyce (ele escreveu outra, A Brilliant Carreer, mas a destruiu). Um personagem, ausente, é chamado de Master Archie. Pra quem fosse ‘alfabetizado’ nas convenções britânicas da época, só isso basta pra deixar claro que
1. Archie é uma criança (senão seria Mister, e seria chamado pelo sobrenome)
2. A pessoa que se refere a ele nesses termos é uma subalterna, quase certamente uma criada.
E tudo isso se verifica. É verdade na peça. Mas como passar toda essa informação já de cara para o leitor brasileiro? Sinhozinho cumpre mais ou menos o mesmo papel, mas, Zizuizamado!, em que contextos diferentes!!
***
Caetano W. Galindo é professor de Linguística Histórica na Universidade Federal do Paraná e doutor em Linguística pela USP. Já traduziu livros de James Joyce, David Foster Wallace e Thomas Pynchon, entre outros. Ele colabora para o Blog da Companhia com uma coluna mensal sobre tradução.
- Seções em destaque
- Da Casa
- Diários do isolamento
- Entrevista
- Eventos
- Lançamentos
- Listas
- Notícias
- Rádio Companhia
- Sala do Editor