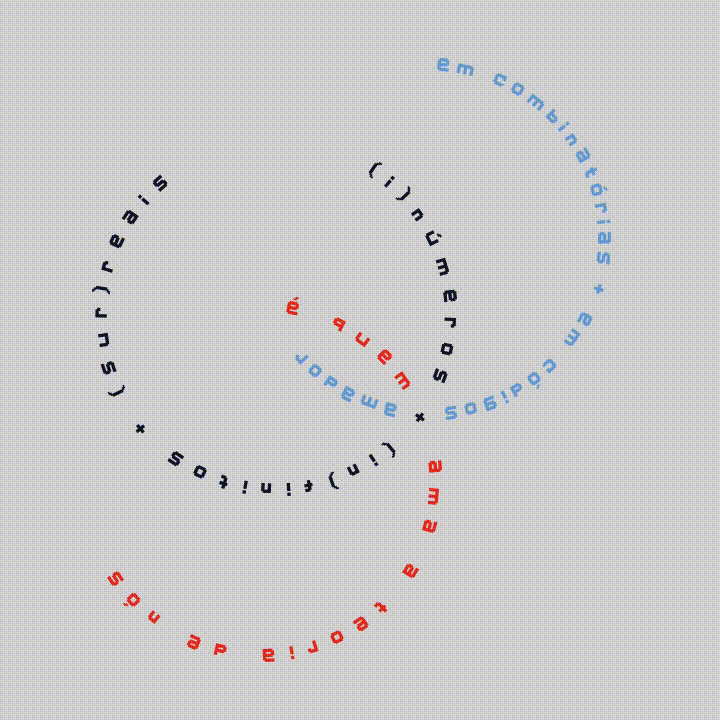É a ecologia, estúpido!
“Podemos adivinhar que a próxima grande pandemia, quando chegar, agirá provavelmente em conformidade com o mesmo padrão perverso, com alta infecciosidade precedendo sintomas perceptíveis. Isso a ajudará a percorrer cidades e aeroportos como um anjo da morte.”
.jpeg)
O jornalista e escritor americano David Quammen publicou essas palavras em 2011. Ele se referia ao SARS-CoV, um vírus assassino que se disseminou a partir do consumo de carne de animais silvestres na China e causou um surto de pneumonia atípica com alta taxa de letalidade em 2003. Apesar de ter matado cerca de 10% dos infectados, a SARS, como ficou conhecida a doença, foi contida rapidamente. Isso porque o coronavírus que a causa tem uma especificidade: derruba o paciente logo no início da infecção, o que impede que ele saia alegre e inconscientemente infectando as pessoas em salas de aula ou no transporte público. Ao viajar pelo berço da SARS e conversar com os médicos responsáveis pela sua descoberta e com os veterinários que monitoram em campo os reservatórios silvestres do vírus, Quammen entendeu que no futuro não teríamos a mesma sorte. Não tivemos.
O que hoje parece profecia era apenas questão de bom senso para quem estuda a relação entre humanos, animais e vírus, mostra Quammen em seu livro Contágio (Spillover, no original), que virou um fenômeno após o início da pandemia do SARS-CoV2 e agora ganha edição brasileira.
Quammen rodou literalmente meio mundo – da China à Austrália, a África de leste a oeste, a Europa e a América do Norte –, entrevistou dezenas de cientistas e leu mais de uma centena de estudos acadêmicos para escrever um tratado sobre como patógenos com origem em animais causam doenças em seres humanos ao saltar entre uma espécie e outra. Esse fenômeno, conhecido em inglês como spillover (“transbordamento”), está na origem de 60% das doenças infecciosas emergentes registradas entre 1940 e 2004.
Contágio faz uma biografia de alguns dos mais assustadores desses vírus, tentando localizar o momento do spillover e as circunstâncias que o tornaram possível. A resposta em todos os casos deveria fazer as pessoas pararem para pensar antes de derrubar uma floresta na Amazônia: é a ecologia, estúpido. Uma zoonose emerge quando seres humanos perturbam relações ecológicas, seja invadindo territórios onde vírus existem em equilíbrio com animais silvestres, seja introduzindo espécies onde esses vírus possam se amplificar antes de dar seu salto para a fama.
O australiano hendra, por exemplo, é um vírus de síndrome respiratória altamente letal transmitido por morcegos, amplificado em cavalos e que causou vários surtos na Austrália. O ebola e o marburg, causadores de febre hemorrágica e entre os patógenos mais letais conhecidos, também têm sua origem em morcegos e possivelmente saltaram para humanos após o consumo de carne de primatas infectados por esses morcegos e após visitas a cavernas habitadas por esses mamíferos. O coronavírus da SARS, parente mais próximo do causador da Covid-19, também vive em morcegos e foi amplificado em ratos-do-bambu, um roedor gorducho criado em cativeiro sob péssimas condições de higiene para alimentar o gosto asiático por carnes exóticas – as civetas, carnívoros suspeitos de serem o amplificador e abatidas em massa na China, eram provavelmente inocentes. A encefalite nipah também vem de morcegos e passa para humanos na Malásia quando os quirópteros compartilham (e babam em cima de) seiva de tamareira, uma iguaria local extraída também sob más condições de higiene. O novo coronavírus veio de morcegos e possivelmente foi amplificado em pangolins, mais uma vez para alimentar consumidores de carne selvagem na China.
Os morcegos são o reservatório natural de tantos vírus zoonóticos por terem duas características compartilhadas com os seres humanos: são altamente móveis e vivem em grandes aglomerações. Isso facilita a circulação do micróbio entre eles – ninhos de morcego, afinal, são ainda mais pródigos em trocas de secreções entre indivíduos que manifestações bolsonaristas em Brasília –, sua disseminação a grandes distâncias e a infecção de um grande número de espécies intermediárias. Numa das passagens mais aflitivas do livro, Quammen conta como uma equipe de cientistas em busca das origens do marburg entrou em uma claustrofóbica caverna em Uganda cheia de cobras naja, carrapatos e com mais de 40 graus de temperatura e deu de cara com centenas de morcegos mortos, “liquefeitos” pelo vírus.
Os primatas são outra fonte de preocupação, por seu parentesco com os seres humanos, que facilita a adaptação dos vírus. Um caso é o herpes-B, também altamente letal e incurável, que habita macacos na Ásia sem adoecê-los e que a qualquer momento pode dar um salto para seres humanos em lugares como Bangladesh, onde esses animais vivem em ambientes urbanos (sim, há equipes de cientistas tentando evitar e prontos para soar o alarme caso isso aconteça). Outro caso, que o livro descreve em detalhes, é o do causador da mais longa pandemia da história, que já ceifou 35 milhões de vidas e infecta irremediavelmente mais 30 milhões de pessoas: o HIV.
O vírus da imunodeficiência humana tornou-se uma pandemia reconhecida no início dos anos 1980, mas ele circula entre seres humanos provavelmente desde 1908. Por esse período fez seu transbordamento, provavelmente no sudeste de Camarões, devido ao contato sanguíneo entre um humano e um chimpanzé. Manteve-se em baixa incidência por décadas na população de cidades do Congo, sem ser reconhecido, até possivelmente ganhar de presente um programa de vacinação nos anos 1940 – antes da invenção da seringa descartável. Um programa de intercâmbio de haitianos para o Congo e um esquema inescrupuloso de comércio de sangue nos anos 60 possivelmente se encarregaram de trazer o vírus para as Américas.
O leitor de Contágio descobrirá que parte da receita para doenças emergentes inclui algo que anda na moda no Brasil: invadir e destruir florestas tropicais. “Agora a perturbação de ecossistemas naturais parece estar liberando esses micróbios em um mundo mais amplo com frequência cada vez maior. Quando as árvores caem e os animais nativos são abatidos, os germes nativos voam como poeira de um armazém demolido”, pondera Quammen. Não existe nenhuma lei da física que impeça um supervírus de saltar para uma turma que esteja derrubando uma mata no sul do Pará e chegar a qualquer grande cidade brasileira um ou dois dias depois. O próprio Quammen, entrevistado pelo jornalista Gustavo Faleiros, disse não saber por que isso ainda não aconteceu, mesmo após 50 anos de avanço voraz sobre a Amazônia. O climatologista Carlos Nobre, estudioso da floresta há décadas, tem uma explicação simples: “Pura sorte”.
Um lembrete dessa possibilidade foi dado em janeiro deste ano. A Covid-19 já iniciava sua razia da Itália quando um homem morreu num hospital público de São Paulo de uma doença misteriosa. Exames sorológicos apontam para febre hemorrágica por sabiavírus, até agora o único supervírus identificado no Brasil. Ele emergiu possivelmente nas matas de Espírito Santo do Pinhal, perto da divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Infectou apenas cinco pessoas, que se saiba, e matou três. Não dá para fazer boa estatística com uma amostra desse tamanho, mas uma taxa de letalidade de 60% é equivalente à de alguns surtos de ebola.
A Covid fez o mundo aprender a lição sobre levar a sério vigilância epidemiológica (já em 1997 um epidemiologista americano chamado Donald Burke pedia atenção especial aos coronavírus) e botou na ordem do dia a questão sobre qual será a próxima pandemia (taí a gripe aviária por H5N1 na fila). No Brasil, como mostrei em reportagem na revista piauí em junho, os cientistas conseguiram responder razoavelmente rápido à pandemia porque já vinham treinados por (e com dinheiro sobrando de) uma outra epidemia: a zika, em 2015. A necessidade de uma rede bem financiada e bem azeitada de laboratórios foi demonstrada do jeito mais pedagógico possível. Sem os laboratórios de biossegurança de nível 3 montados pela Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) no começo do século o país não teria sequer como isolar o SARS-CoV2 para estudá-lo e preparar diagnósticos.
É de uma imprevidência dolosa, portanto, o movimento feito pelo governo federal de propor cortes profundos nos orçamentos da Educação e da Ciência e Tecnologia para 2021. Mas talvez ainda mais trágica, pelo ineditismo, a proposta do governador de São Paulo, o tucano João Dória Jr., de alterar a Constituição do Estado para poder garfar o percentual sagrado de ICMS que vai para a reserva da Fapesp. A estabilidade do financiamento da fundação transformou São Paulo num polo de excelência e no bastião da pesquisa no país depois do colapso do financiamento federal, ocorrido do governo Dilma em diante. Nenhum governador antes de Geraldo Alckmin sonhou em mexer na verba da Fapesp. E nenhum chegou tão perto de realizar o sonho quanto Dória. É de uma ironia cruel que, alegando dificuldades de caixa por conta da pandemia atual, o governo paulista ameace bombardear a trincheira que pode nos proteger das próximas.
***
Claudio Angelo nasceu em Salvador, em 1975. Foi editor de ciência do jornal Folha de S.Paulo de 2004 a 2010 e colaborou em publicações como Nature, Scientific American e Época. Foi bolsista Knight de jornalismo científico no MIT, nos Estados Unidos. Lançou, em 2016, pela Companhia das Letras o livro A espiral da morte, sobre os efeitos do aquecimento global, ganhador do Prêmio Jabuti na categoria Ciências da Natureza, Meio Ambiente e Matemática.
- Seções em destaque
- Da Casa
- Diários do isolamento
- Entrevista
- Eventos
- Lançamentos
- Listas
- Notícias
- Rádio Companhia
- Sala do Editor