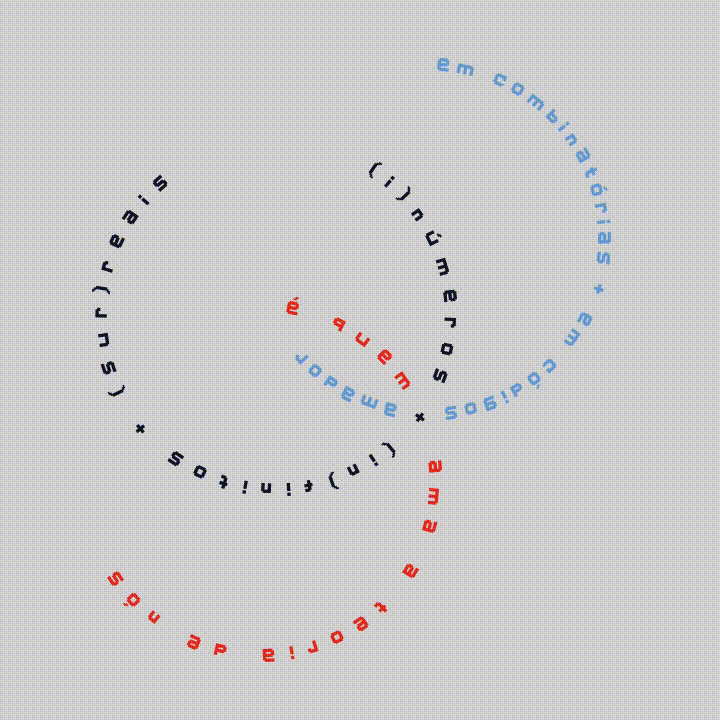Diários do isolamento #11: Jarid Arraes

No décimo segundo andar, o vento chega forte. As portas de vidro da varanda chacoalham e, se esqueço as portas de madeira descoladas dos ímãs que as seguram, elas batem como se uma assombração andasse pela casa vocalizando sua raiva.
Eu também sinto raiva. Meu dedo empurra as imagens na tela do celular e leio maus presságios. Morre jovem de dezoito anos, médicos criticam adiamento de casos graves, oportunismo dos planos de saúde, Milão diz erramos, adolescente de dezesseis anos morre com coronavírus na França, primeiro-ministro do Reino Unido está infectado. Poucas pessoas postam a felicidade que antes era rotina no Instagram. Agora quase todas as cores estão explicadas pelo passado. Isso foi em fevereiro, eu não saí, esse café com meu nome escrito errado eu comprei antes da quarentena, meu sorriso no parque foi sorrido no início do mês.
A raiva entra pelos meus olhos como cisco e eu esfrego, esfrego, uso dois dedos, coço. Mas não chorei nenhuma vez.
Já não presto atenção na previsão do clima dos próximos dias. Sempre vejo qual a máxima, qual a mínima. Não agora. Não importa. Sinto frio o tempo todo e às vezes deixo as portas da varanda abertas para que o vento entre. O frio é minha coisa favorita em São Paulo, mas hoje me preocupo com meus pulmões. Esses que sempre foram perfeitos, que passaram por mais de seis ou sete raios x. Sempre tudo ótimo, o problema nunca esteve lá. Mas e agora, se eu me deixar soprar?
Se não vejo as notícias toda hora, acho que estou sendo burra, que estou despreparada e que um palhaço vai pular na minha frente buzinando contra minha cara. Então escolho assistir o Brasil escorregar pelo barranco. Leio as pessoas afirmando que os dados reais do coronavírus no país não estão sendo contabilizados oficialmente, não estão sendo divulgados, não temos a mínima ideia, as pessoas morrem sem o diagnóstico, não pudemos nos despedir da nossa mãe, sem flores, caixão fechado, meu filho foi duas vezes ao hospital, deram ibuprofeno, não fizeram o teste, quando ele voltou, era tarde, não fizeram, e nem o teste. Vejo uma repetição de uma repetição de erros dos outros. Como é difícil aprender com os outros, mesmo que a lição venha escrita como receita, registrada por câmeras, desenhada em relatório de números. Parece que se implora pelo furo na carne, porque, para acreditar, só sangrando.
Sinto raiva, coço o olho, esfrego, uso a mão inteira.
No prédio onde moro, há crianças brincando no parquinho. Saí para receber o mercado com máscara azul no rosto ao mesmo tempo em que a vizinha saiu para colocar o lixo pra fora. Ela disse ai, que susto. No grupo do Facebook do bairro onde vivo, pessoas falam que o isolamento é um absurdo e que a economia vai quebrar. Vi que o governo federal começou uma campanha repetindo que o Brasil não pode parar. Autora de Harry Potter pede que brasileiros fiquem em casa. Alguém argumentou que gente morta não compra nada, que se não tiver isolamento total a economia vai quebrar em pedaços incontáveis. Pedacinhos evaporando, pedacinhos.
Quem sobrar vivo vai comprar livros?
Recebi mais caixas pelo elevador. A comida do meu cachorro e três litros de álcool isopropílico, usado em eletrônica, e que vou diluir em 70% para a limpeza. Meu cachorro ficou curioso e animado com as caixas, são as maiores novidades em muitos dias. Isso e o banho que ele tomou na varanda. Já fedia, comeu cocô dos meus dois gatos, conseguiu ultrapassar o portãozinho que separa a caixa de areia na lavandeira, e passou a madrugada vomitando. Fez falta alguém que desse um banho num cachorro grande assim. A coluna dói, não tem posição que ajude, não tem perna que aguente. Mas, depois de limpo, ele dormiu que nem um tapete jogado em cima do sofá. Se não fosse o isolamento, ontem teria ido ao canil de sempre, onde corre pelo sítio e toma banho de piscina com outros cachorros desesperados atrás de bolinhas. O canil avisou para os clientes que eles farão a hospedagem gratuita dos cães de quem for infectado pelo coronavírus. Penso que ele estaria melhor no campo verde, mas eu não estaria melhor sem ele. O nome do meu cachorro é Joy.
Depois do meu primeiro diário publicado, uma leitora comentou nas minhas redes que o texto a deixou triste, mas que entende meu desabafo. Não era um desabafo. Ela disse que é otimista e que tem fé. Eu penso que a realidade não é indulgente, ela segura seu rosto para que você veja as figuras se mexendo. O olho coça, você esfrega, dois dedos, mão inteira, arde. Mas veja.
Saber sentir a realidade é estratégia de sobrevivência.
Estou construindo e decorando uma ilha toda cor de rosa no Animal Crossing, jogo que mais tem me ocupado no isolamento. São árvores de pêssego, flores de cerejeira, a casa onde minha personagem mora tem todas as paredes rosa, todas as suas roupas são rosa, incluindo uma que imita a de Power Ranger. Também gastei o dinheiro do jogo comprando roupas cor de rosa para presentear os vizinhos, que são animais coloridos. Na ilha, todos me elogiam porque cuido de tudo muito bem. Ontem tivemos um show, ao vivo e na praça, de um cantor famoso. Depois que o show acabou, ele me deu uma de suas músicas. Eu levei pra vender na loja da cidade, não gostei do estilo.
Minhas cores favoritas são preto e cinza. As últimas músicas que ouvi foram do álbum de jazz da Lady Gaga com o Tony Bennett.
Também recebi uma proposta de trabalho para depois que o isolamento social passar e as coisas melhorarem. Enquanto respondia que tenho, sim, interesse, pensei que era otimismo demais planejar um evento desse tipo pra tão perto. Muita gente participando. E eu gosto tanto de abraçar e falar olhando nos olhos. Coço o olho, arde, um dedo esfrega a pálpebra, com força.
Estou sendo marcada em todas as redes. As pessoas estão lendo poemas meus em lives, declamando meus cordéis em varandas, indicando o Redemoinho em dia quente em listas. Não estou conseguindo responder todo mundo. Quero ficar na ilha, quero ler as notícias, quero abrir um pouco a varanda, quero sentir as vias áreas seguras. Quero, com sorte, congelar o tempo. Nem um dia a mais. Não sei se o Brasil aguenta outro dia desse deslizamento. Insuficiência respiratória, quase 50% abaixo dos sessenta, avó morta, lacrado, sem contato, o papa sozinho, aquele lugar enorme vazio, trending topics, 31 de abril, traidor da constituição, golpe de estado, cliquei e não entendi onde, de onde, por quem, na minha cidade também, vão acreditar quando for com, estão ocorrendo sem diagnóstico, na rede pública, buraco, hashtag tanta coisa, ainda é terça de manhã dia 31, almocei assistindo o Átila [Iamarino] no Roda Viva e desisti de atualizar esse texto até a noite, quando vou enviar pra ser publicado na quinta.
Dentro de mim, onde fica o estômago, mora um eco que diz você nunca vai conseguir escrever o próximo fato mais marcante, nunca vai conseguir, não o mais marcante, nunca. Porque daqui a duas horas pode ser a hora mais fatídica. E daqui a seis, oito, e quinta-feira será tarde demais, diz a voz. Ainda bem que eu tenho com quem conversar, com quem gastar o som que minhas cordas vocais afinam. Antes da última cirurgia eu tive medo de nunca mais conseguir cantar.
Eu ainda consigo cantar.
Pela primeira vez desde que entrei em isolamento, fui até a varanda, encostei a testa na rede de proteção e reparei nas ruas. Vários carros, pessoas caminhando, fazendo exercício, portão levantado, petshop aberta. É um bairro onde mais mora gente do que se vende coisas e, ainda assim, tudo está sendo barganhado. Perceber que o fluxo das ruas quase não mudou causa um chiado na minha mente. Será que passou, não passou, não está nem perto de passar, queria gritar daqui de cima ei, por que está tudo normal nas ladeiras, por que me sinto sozinha no isolamento, só eu estou isolada perto desse shopping, entre brinquedos para animais, ouvindo o vizinho do prédio da frente, que é longe, cantar uma música que tentei entender, mas não consegui. Não de quem, por quem. Mas é um desafinado que me joga uma linha com um copo preso na ponta e parece dizer, feito criança, não é só você, não é só você.
Meu avô me ligou. Era mais de onze da noite e eu não falava com ele há alguns anos. Por telefone, não falava desde que eu era criança. Quando ouvi sua voz, afastei a tela do celular do rosto e fiquei encarando o número enquanto ele dizia é vovô, vovô, vovô Balalão. O nome do meu avô é Abraão. Eu tinha sete anos quando ele me deu um livro que falava sobre medo. Caminhar pela chácara à noite era um terror para mim e eu tinha que atravessar o escuro até chegar na casa onde dormia, separada da casa dos meus avós. De tanto falar que tinha medo, veio o livro. A dedicatória dizendo: Jarid, o medo é do tamanho que se faz. Vovô Balalão. Essa frase me acompanhou sempre, caminhará ao meu lado pra sempre. Mas vô, eu acho que faço o medo ser grande. Ainda não aprendi, será que dá tempo? Pelo telefone, ele me contou sobre o dia em que ele aguava as plantas e o encontro do sol com a água da mangueira formou um arco-íris. Ele me disse você lembra? Você ficou tão encantadinha, pensava que arco-íris só existia nos livros, ficou maravilhada porque um arco-íris apareceu na sua frente.
Quando foi mesmo a última vez que vi um arco-íris?
Um homem acabou de gritar na rua e eu não entendi o motivo, parecia brigar, xingar. Mas meus ouvidos compreenderiam palavrões, estou sentada no sofá com vários no meu colo. Deslizo, não sei mais escrever, penso se o barulho da rua está me tornando uma pessoa pior. O Brasil é alguém pior deslizando barranco abaixo. Não tem perna que aguente.
E tem gente, tem gente, jogando mais barro lá de cima. Será que alguém vai escorregar em algum momento?
***
Jarid Arraes nasceu em Juazeiro do Norte, na região do Cariri (CE), em 1991. Escritora, cordelista e poeta, é autora dos livros Um buraco com meu nome, As lendas de Dandara e Heroínas negras brasileiras. Atualmente vive em São Paulo, onde criou o Clube da Escrita Para Mulheres. Tem mais de 70 títulos publicados em Literatura de Cordel. Redemoinho em dia quente (Alfaguara) ganhou o prêmio APCA de Literatura na Categoria Contos/Crônicas.
- Seções em destaque
- Da Casa
- Diários do isolamento
- Entrevista
- Eventos
- Lançamentos
- Listas
- Notícias
- Rádio Companhia
- Sala do Editor