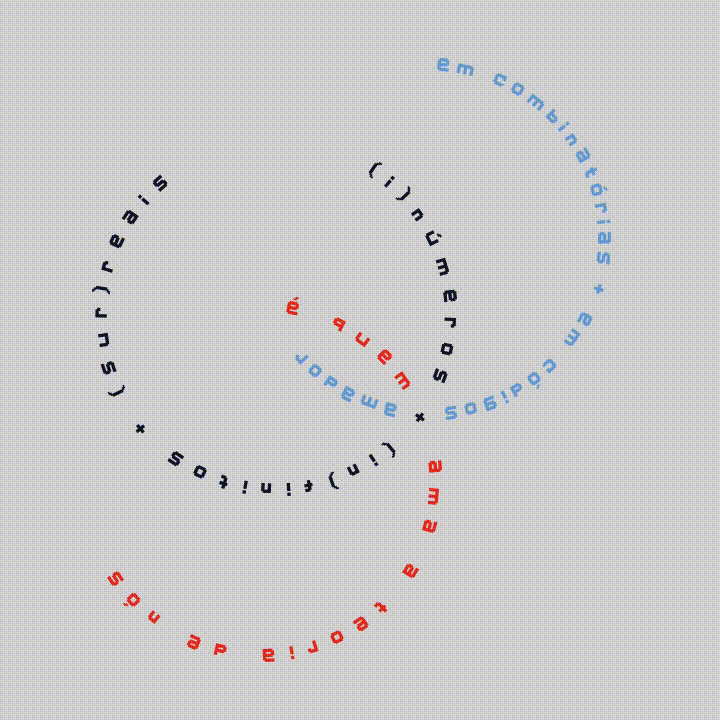A revolução sem bichos

Richard James Taylor/ GettyImages
Quinze anos atrás, o engenheiro e futurólogo americano Ray Kurzweil publicou The singularity is near, um livro que se tornaria fetiche entre empresários do Vale do Silício. Ele apostava que os humanos neste século transcenderiam a biologia, impregnando de consciência máquinas que eventualmente colonizariam o Universo. É um livro chato, pretensioso e longo. E seu autor é um profeta tecnológico que falhou na única contribuição que ele mesmo deu à tecnologia: tentar produzir um piano digital tão bom quanto um acústico (nunca serão).
Kurzweil, porém, é engenheiro, e convém não desprezar engenheiros. Se por nenhum outro motivo, porque eles sabe fazer contas. E algumas contas que o americano apresenta deveriam estar na cabeça e no coraçãozinho de cada formulador de políticas públicas neste planeta, inclusive no Brasil.
Olhando o histórico de adoção e disseminação de uma série de tecnologias – chips, telefonia, memória de computadores, internet, sequenciamento de DNA –, Kurzweil vê um padrão. Cada tecnologia é primeiro adotada lentamente, para depois entrar numa fase de disseminação exponencial. Quem está no início ou no joelho da curva, no momento em que as condições já estão dadas para o salto exponencial, pode olhar para trás e ficar com a impressão errada de que a adoção dessa tecnologia no futuro repetirá o ritmo linear visto até aquele ponto.
Em 1995, uma pessoa que olhasse para a disseminação da internet dificilmente preveria a explosão que viria apenas cinco anos depois, quando a web entrou numa curva exponencial – a ponto de 70% dos brasileiros terem acesso à internet hoje e 64% destes se informarem por meios que mal existiam quando The singularity is near foi publicado, as redes sociais.
A taxa de adoção de novos paradigmas tecnológicos dobra a cada década e o tempo de adoção de um novo paradigma cai à metade, postula o inventor dos sintetizadores Kurzweil. No século vinte e um, diz, nós veremos o equivalente a duzentos séculos de inovação. Pode não ser o suficiente para fundir a consciência humana à das máquinas, mas pode produzir chacoalhadas completas em coisas que hoje nós damos de barato – como nosso consumo de proteínas.
Há quase trezentos mil anos o Homo sapiens consome proteínas da mesma forma: matando outros animais. Como já contei aqui, a união da caça e do fogo, há mais de um milhão de anos, foi provavelmente a razão do salto evolutivo que permitiu que os descendentes dos primeiros cozinheiros se arrogassem o nome de espécie sapiens. Há cerca de dez mil anos, uma turma no Oriente Médio descobriu uma maneira de eliminar a caça ao domesticar grandes mamíferos e para obter carne e leite.
Com poucas alterações, esse método funciona até hoje. Países como o Brasil têm parte significativa de suas economias funcionando com base em uma tecnologia de 10 mil anos de idade. Em 2019, 5% de tudo o que exportamos foram carcaças de bichos mortos (se consideramos que petróleo bruto também é um tipo de carcaça de bicho morto, esse total sobe para 15%).
Só que a maneira como se produz e se consome proteína está para mudar. E pode ser muito, mas muito mais depressa do que antecipamos.
No ano passado, o mundo dos negócios foi surpreendido com a abertura de capital (IPO) da empresa Beyond Meat, que fabrica hambúrgueres feitos a partir de plantas e com gosto de carne. Com valorização de 200%, foi a melhor IPO das bolsas americanas em 2019. A rede Burger King botou no mercado também em 2019 o primeiro hambúrguer “plant-based” massificado, da concorrente Impossible Foods (ainda indisponível no Brasil). Eu provei: é indistinguível de um hambúrguer de carne de fast-food. O céu é o limite para esse ramo dos negócios.
A humanidade tem razões de sobra para cortar o hábito ancestral de matar animais para comer. Há razões éticas, muito bem apontadas por uma legião de millenials veganos. Mas, sobretudo, existe uma incompatibilidade entre a forma atual de produção de proteínas a sobrevivência de uma Terra com 10 bilhões de seres humanos.
No ano passado, o IPCC, o comitê de cientistas do clima da ONU, lançou seu relatório Mudança climática e terra, no qual afirma que até 37% de todos os gases de efeito estufa do planeta são produzidos direta ou indiretamente pelo nosso sistema alimentar e que 25% das terras do globo estão em algum estágio de degradação. A pecuária é o principal fator por trás desses números: é o maior usuário de terras, o maior usuário de água, o responsável pela maior taxa de destruição de ambientes naturais e o maior emissor de metano, um gás de efeito estufa 28 vezes mais potente que o gás carbônico.
Em nenhum lugar as ineficiências da pecuária reluzem tanto quanto no Brasil. Nossa produção de gado é responsável pela esmagadora maioria do desmatamento, que por sua vez emite quase 45% de todo o carbono que jogamos no ar, além de quase 20% de emissões diretas. Uma análise pioneira da produção nacional publicada em 2015 pelo Imaflora e pela Esalq-USP mostrou que, em 2006, a agricultura produzia um teor de proteína 25 vezes maior do que a pecuária, ocupando 2,6 vezes menos área. Hoje a diferença cresceu: as pastagens ocupam 173 milhões de hectares, 3,5 vezes mais que os cultivos agrícolas e um quinto do território nacional. Pasto amado, Brasil.
Neste momento, há no país uma disputa entre visões antagônicas sobre o futuro da pecuária e dos ecossistemas. Uma parcela da sociedade, apoiada em evidências científicas, deseja um aumento da eficiência do setor, quadruplicando o número de bois por hectare, reduzindo a pressão por terra e sequestrando carbono. Outra parcela, representada pelo atual governo e por seus aliados, quer expandir horizontalmente a produção ao menor custo, ocupando mais terras (públicas) e eliminando florestas. Estas pessoas parecem convencidas a dobrar a aposta na vocação do Brasil de exportador de bicho morto. Nenhum dos lados parece estar atento ao trem da pós-pecuária que começa a acelerar nos laboratórios do mundo desenvolvido e ameaça atropelar esse debate.
Em janeiro o Channel 4 levou ao ar no Reino Unido o documentário Apocalypse Cow, produzido pelo jornalista e ativista ambiental George Monbiot. O filme mostra que não apenas a pecuária pode estar com os dias contados, mas que a própria agricultura está sendo redesenhada pela ciência. Start-ups começam a testar alimentos produzidos por processos dez vezes mais eficientes que a fotossíntese. Microrganismos bombadões isolados do solo e geneticamente modificados já emulam a natureza para produzir de farinha a proteínas do leite. Isso para não falar de processos mais consagrados e que dez anos atrás soavam delirantes, como a produção de carne de verdade a partir do cultivo de células musculares de bovinos.
Se as contas de Ray Kurzweil estiverem certas, a adoção dessas tecnologias pós-agrícolas pode entrar em crescimento exponencial nos próximos anos, a começar dos produtos pós-pecuários como as carnes “plant-based”.
De novo, olhar para o desempenho passado desse mercado não permite projetar o que acontecerá com ele no futuro. Razões éticas, de saúde e novas catástrofes climáticas (alô, Austrália), capturadas por um marketing esperto, podem virar muito rápido a preferência do consumidor. Em poucos anos – anos, não décadas - a pecuária pode se tornar um mercado de nicho. Países que fazem de bichos mortos um pilar de sua economia, ao mesmo tempo em que sufocam a ciência que poderia lhes dar alguma vantagem competitiva nesse novo mundo, correm um risco grande de virar carne de pescoço. Quem conhece algum país assim faz arminha com a mão.
***
Claudio Angelo nasceu em Salvador, em 1975. Foi editor de ciência do jornal Folha de S.Paulo de 2004 a 2010 e colaborou em publicações como Nature, Scientific American e Época. Foi bolsista Knight de jornalismo científico no MIT, nos Estados Unidos. Lançou, em 2016, pela Companhia das Letras o livro A espiral da morte, sobre os efeitos do aquecimento global, ganhador do Prêmio Jabuti na categoria Ciências da Natureza, Meio Ambiente e Matemática.
- Seções em destaque
- Da Casa
- Diários do isolamento
- Entrevista
- Eventos
- Lançamentos
- Listas
- Notícias
- Rádio Companhia
- Sala do Editor