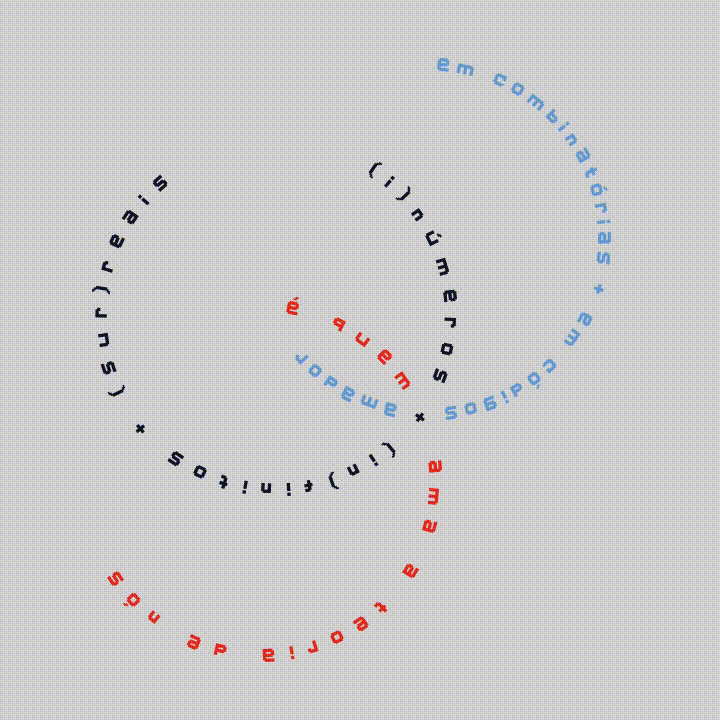Rhinoceros

O rinoceronte é aquela criatura que nunca conseguiu sair da fábula. Poucos de fato o viram. Há séculos habita mundos afastados; contam histórias duvidosas sobre ele. Quando alguém o descreve, é de modo infiel. Na Antiguidade já o confundiam com o unicórnio, e o elefante seria seu inimigo capital. Heródoto e Plínio o mencionam rapidamente. Talvez tivesse crina vermelha e corno espiralado, segundo uma nota de Eliano. Uma poção feita do seu chifre, combinada com uma taça de vinho, preveniria a epilepsia e anularia os venenos – isso é o que se lê em Ctésias de Cnido. Os relatos passam de um comentarista a outro, cada qual copia e muda o anterior. Nos bestiários medievais, o rinoceronte surge ao lado de grifos e centauros e continua associado ao unicórnio; os elementos que vêm dos antigos se recombinam em histórias cristãs. O animal é indômito, mas a nudez de uma virgem pode acalmá-lo. Algumas alegorias simplórias o tornam símbolo de Cristo.
No início do século 16, em Nuremberg, Albrecht Dürer grava em xilogravura seu famoso desenho de um rinoceronte. Sem perder os traços fantasiosos, a representação investe no realismo, mas, de certo modo, acaba autenticando uma tradição mítica e fantástica. Trata-se, como se sabe, de um desenho de segunda mão, feito com base em relatos sobre um animal vindo da Índia e recém-desembarcado em Lisboa, como presente do sultão Muzafar II para Manuel I, rei de Portugal. O rinoceronte de Dürer tem o corpo robusto e vivo, a impressão de concretude é imediata. Parece vestido com uma espécie de jogo de armaduras, placas com textura de coral que se encaixam como conchas sobre o lombo do bicho. Um pequeno chifre torneado aponta quase no cangote, as patas são escamosas, a extremidade do dorso é serrilhada. O luxo dos detalhes deve ser a chave da hipnose provocada pela figura. Se os sonhos costumam ser lembrados aos pedaços, se algo neles sempre é turvado ou falha, o rinoceronte de Dürer chega como um sonho inteiro, de verdade incontestável, e talvez esteja aí a razão do seu fascínio. Se Dürer tivesse visto o animal, não construiria uma imagem tão poderosa.
A ilustração de Dürer seduziu os naturalistas durante séculos – provavelmente até hoje deliram com ela. Parece ter resistido ao método, à taxonomia, aos rigores e obsessões da ciência. Talvez possua um encanto emanado do próprio bicho, de seu caráter indomesticável, que se estende ao imaginário que o construiu. Hoje, se uma criança pergunta como é um rinoceronte, a resposta será nebulosa. Afinal, quem vai negar a ele, além de toda a sua extravagância, uma couraça preciosa que o proteja de seus matadores?
Em março de 2018, morreu no Quênia o último macho dos chamados rinocerontes-brancos-do-norte. Em seus dias derradeiros, permaneceu cercado por guardas, ainda na defesa contra caçadores, esperando. Várias fotos documentam o trânsito para a extinção. Em uma delas, a cena é de uma campina aberta, sem casas, sem cercas, sem árvores. O animal está inerte, com a cabeça baixa, alheio aos três homens que o vigiam. Um deles, com a espingarda em uma das mãos, afaga o pescoço do rinoceronte com a outra. O céu é de fim de tarde, com uma pincelada de nuvem. Não há mais nada na face da Terra. A melancolia está ali – mas não apenas porque se assinala o fim de uma espécie, ou porque se captura a solidão de uma era no olhar de um único indivíduo. A melancolia está ali, e sobra, porque na sua crueza, na sua limpidez, a imagem subtrai toda a imaginação, as fabulações que sempre impregnaram a criatura. Sem mágica, sem pó, sem escamas. Você olha o rinoceronte e sabe que, quando o corpo dele tombar, o que te resta é apenas acreditar naquela fotografia.
***
Marcílio França Castro nasceu em Belo Horizonte, em 1967. Mestre em estudos literários pela UFMG, publicou, entre outros, Histórias naturais e Breve cartografia de lugares sem nenhum interesse, pelo qual recebeu o Prêmio Literário da Fundação Biblioteca Nacional.
- Seções em destaque
- Da Casa
- Diários do isolamento
- Entrevista
- Eventos
- Lançamentos
- Listas
- Notícias
- Rádio Companhia
- Sala do Editor