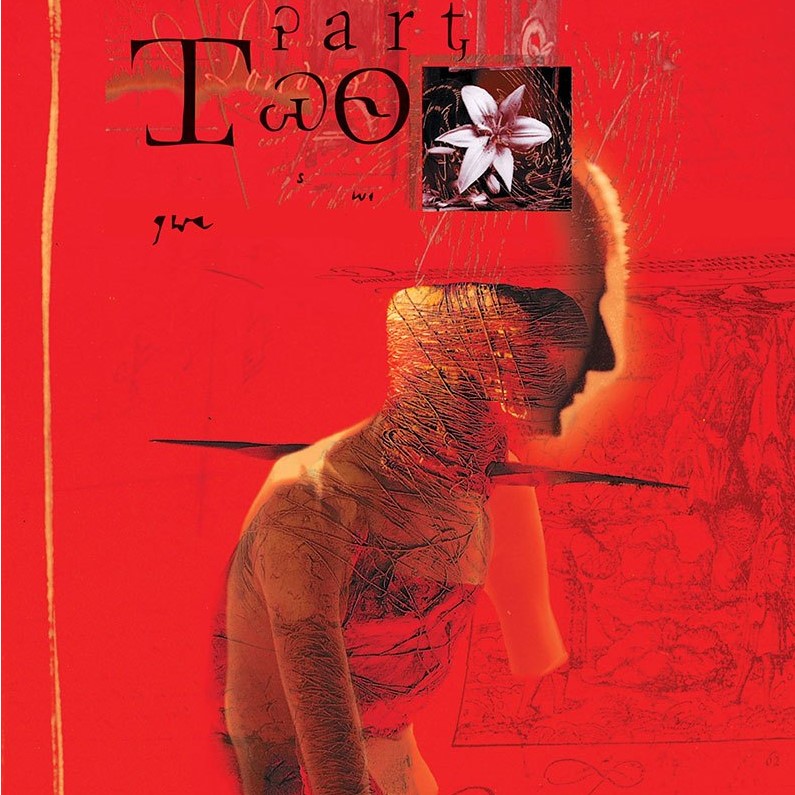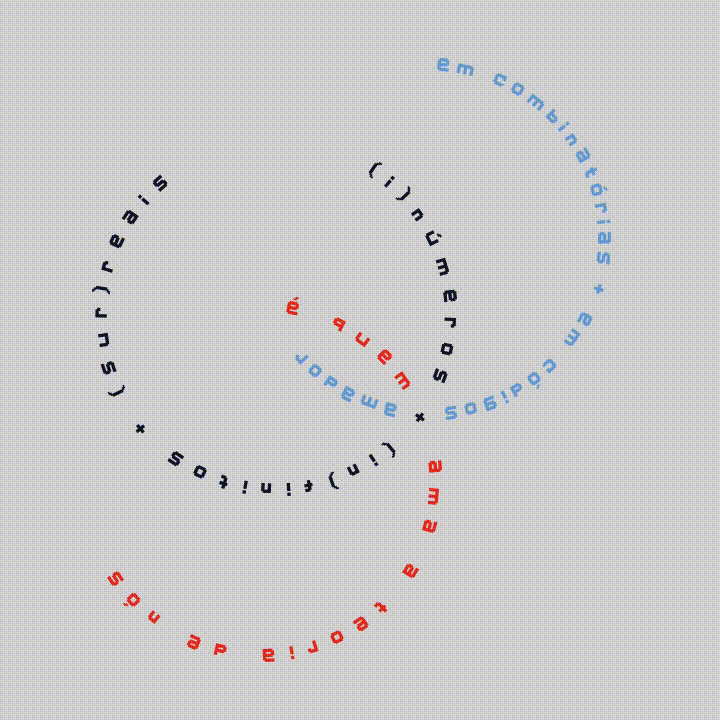O que aprendi com um herói de Jair Bolsonaro

Imagem: iStock/ Getty Images
O físico André Geim é chegado numa balbúrdia.
Professor de uma universidade pública no Reino Unido, ele já admitiu que gasta parte de seu tempo deliberadamente com pesquisas que não dão nenhum retorno para a sociedade. Já usou ímãs para levitar sapos, o que lhe rendeu um prêmio IgNobel, o Nobel da pesquisa inútil. Diz que 99% de suas ideias são “um lixo completo”. Gosta de estimular seus alunos a se comportar da mesma forma que ele, dando uma banana à hierarquia. Imigrante soviético naturalizado holandês, já defendeu a China num pronunciamento público. Em resumo, se vivesse no Brasil, Geim seria alvo perfeito de tuítes ofensivos de Jair Bolsonaro e de corte de verbas do ministro Adam Weintraub. Não fosse por um detalhe: ele é um ídolo do Presidente da República.
Bolsonaro não conhece Geim, mas tem verdadeira obsessão por um material descoberto por ele: o grafeno, uma folha de carbono com espessura de um átomo que, entre outras coisas, promete substituir o silício na fabricação de chips de computador. Antes e durante a campanha presidencial, o Jair elevou o grafeno ao status mítico de material do futuro, que o Brasil estaria ameaçado de perder para os asiáticos e para as “reservas indígenas”. Já eleito, fez questão de visitar um centro de pesquisas sobre grafeno numa universidade privada de São Paulo, onde soltou a pérola de que “poucas universidades têm pesquisa e, dessas poucas, a grande parte está na iniciativa privada”.
Na minha encarnação passada, como jornalista, tive a sorte de entrevistar Geim. Foi em 2006, dois anos depois que ele e seu orientando Konstantin Novoselov, também russo, isolaram o grafeno pela primeira vez, e quatro anos antes de ambos levarem o Prêmio Nobel pela descoberta. Perguntei a Geim o que o havia levado à descoberta do novo material. A resposta foi cândida: “Despeito! Não é um sentimento bonito, certo?”, afirmou o cientista, com uma risada. E explicou na sequência que os físicos teóricos na época achavam impossível que uma folha de carbono de um átomo de espessura pudesse ser estável. Naquela época, todo o dinheiro para pesquisas em nanotecnologia, a fama e as mulheres (no caso, as publicações em revistas de prestígio, como Science e Nature) estavam indo para os nanotubos de carbono, a grande promessa da nanoeletrônica. “Resolvemos fazer, só para irritar os teóricos”, contou Geim.
Alguém aí se lembra dos nanotubos de carbono?
O físico holandês explicou em seguida que sempre busca manter em seu laboratório algumas linhas de pesquisa das quais ele não espera muita coisa. “Eu sempre tive algum tipo de pesquisa que me possibilita obter verbas – se eu dissesse ‘quero levitar um sapo’ nenhuma agência daria dinheiro – cinco ou dez pequenos projetos nos quais eu pergunto ‘o que acontece se?’. Em 99% dos casos é um lixo completo. Mas, uma vez ou outra, esse questionamento do senso comum produz resultados, e o grafeno é provavelmente o exemplo mais espetacular.” Em resumo, se não fosse a propensão de Geim e Novoselov por fazer balbúrdia, o mundo – e Jair Bolsonaro – não teria o grafeno.
Na sua compreensão peculiar do mundo, Bolsonaro considera o grafeno uma versão sofisticada de uma commodity. Um recurso natural a ser explorado, refinado e exportado. Antes da campanha, gravou um vídeo no Vale do Ribeira, sua terra natal, no qual aparece ao lado de um afloramento de grafite, mineral de onde é extraído o grafeno, e faz uma conta simples: cada quilo de grafite custa alguns poucos reais na mina, enquanto os 150 gramas de grafeno supostamente contidos nesse mesmo material teriam supostamente preço de US$ 15 mil. Ergo, o Brasil, como detentor de grandes jazidas de grafite, seria também um grande produtor de grafeno para o mercado internacional – quando conseguisse se livrar das “reservas indígenas” dentro das quais “as ONGs” bloqueiam a riqueza mineral nacional para benefício dos “asiáticos”.
Infelizmente as coisas não funcionam assim, presidente. Primeiro, porque a demanda mundial por grafeno, se é que ela existe, se mede em gramas por ano e não em quilos, menos ainda em toneladas. Ainda que matasse todos os índios e todos os ongueiros e abrisse todas as suas jazidas de grafite, o Brasil jamais teria “grafeno” como uma linha significativa em sua pauta de exportações.
Mas o principal é o que essa história revela sobre a maneira como a cabecinha presidencial concebe, com o perdão do verbo forte, desenvolvimento e geração de riqueza. É a mesma lógica tosca que iguala recurso natural a desenvolvimento sem olhar o que existe entre as duas pontas. E entre as duas pontas existe apenas uma coisa: ciência.
O grafeno foi isolado no Reino Unido não por causa dos depósitos de grafite do arquipélago, mas porque atraiu para seu sistema universitário dois malucos que pensam fora da caixa e lhes deu liberdade de fazer pesquisas inúteis. E o sistema universitário britânico é atraente para malucos criativos porque o país que inventou o capitalismo sabe que a pesquisa científica básica é pré-condição para o surgimento da tecnologia que alavanca a indústria e torna o capitalismo o que ele é. Os países asiáticos vão ganhar dinheiro com grafeno porque estão estudando aplicações de alto valor agregado do material, não porque estão contrabandeando toneladas de grafite das terras indígenas sul-americanas.
No Brasil, por outro lado, o que o governo faz é guerra à academia. No intervalo de um mês, Bolsonaro e seus fanáticos dispararam uma sequência inédita de petardos contra a educação e a ciência no Brasil. Começou com a ameaça de cortar pesquisas em humanidades em favor de coisas que “deem retorno para a sociedade” – conforme, claro, o conceito de “retorno para a sociedade” da turma do poder. Depois veio o congelamento de 42% dos recursos para ciência e tecnologia, que feriu de morte um sistema que já estava no fundo do poço.
Quando parecia que nada poderia piorar, o olavista Weintraub aparece com a infâmia do corte de 30% da verba discricionária das universidades que fazem “balbúrdia”, logo convertida em corte linear de 30% para todas as universidades federais e a suspensão das bolsas da Capes.
Saiu barato para Weintraub o movimento do dia 15 de maio, que botou centenas de milhares nas ruas em 200 cidades em defesa da educação e da pesquisa (na Rússia natal de Geim a resposta possivelmente seria um tanto mais extrema). Com sua capacidade aparentemente infinita de jogar gasolina na fogueira, o regime bolsonarista ainda baixou um decreto no dia das manifestações cortando a autonomia de reitores para nomear cargos comissionados. Num raro lampejo de racionalidade, no dia 22 o MEC reverteu parcialmente o último congelamento, apostando em desmobilizar os novos protestos marcados para o dia 30. A ver.
Após esmigalhar a espinha dorsal já quebrada do sistema nacional de ciência e tecnologia, o financiamento público (acreditou quem quis na promessa de campanha de Bolsonaro de subir de 1,5% para 3% do PIB os recursos para pesquisa), as hostes obscurantistas eleitas miram “a cabecinha” da pesquisa: a liberdade acadêmica e a autonomia universitária. Ao atirar nos baderneiros e marxistas culturais imaginários, porém, o governo está matando Geims e Novoselovs reais. Está tirando a chance do Brasil de criar o próximo material do futuro e desenvolver tecnologias a partir dele. Para nossa pauta de exportações sobrarão soja, minério de ferro, suco de laranja – e um desgosto sem fim.
***
Claudio Angelo nasceu em Salvador, em 1975. Foi editor de ciência do jornal Folha de S.Paulo de 2004 a 2010 e colaborou em publicações como Nature, Scientific American e Época. Foi bolsista Knight de jornalismo científico no MIT, nos Estados Unidos. Lançou, em 2016, pela Companhia das Letras o livro A espiral da morte, sobre os efeitos do aquecimento global, ganhador do Prêmio Jabuti na categoria Ciências da Natureza, Meio Ambiente e Matemática.
- Seções em destaque
- Da Casa
- Diários do isolamento
- Entrevista
- Eventos
- Lançamentos
- Listas
- Notícias
- Rádio Companhia
- Sala do Editor