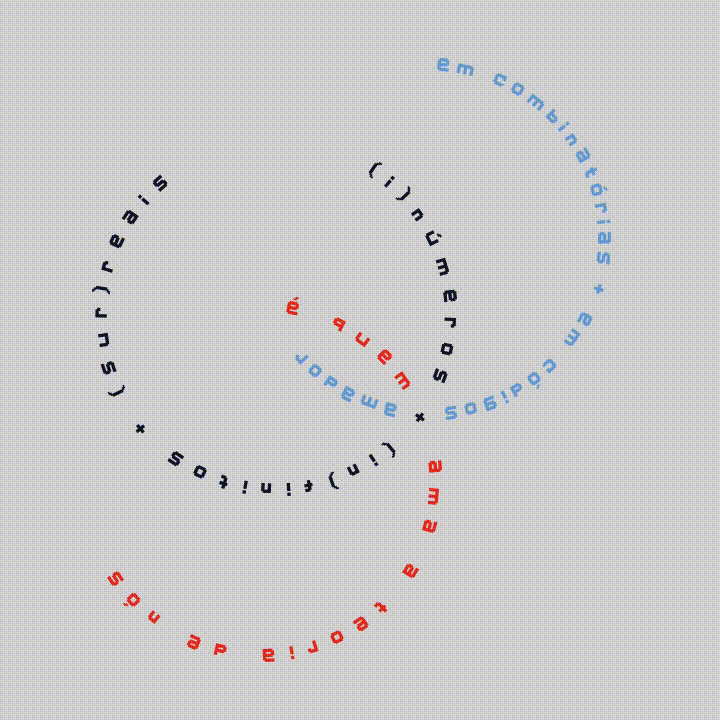Adolescência, dos três aos trinta?
*Por Júlia Milman e Lulli Milman, psicólogas e autoras de A vida com crianças
Sabemos que a adolescência começa em torno dos 13 anos: o corpo começa a mudar e há um amadurecimento geral em direção à vida adulta. Vida sexual, autonomia, consolidação do pensamento simbólico e abstrato. Essa passagem do mundo da infância para o do adulto é vivida de formas diferenciadas nas diversas culturas. Uma distinção marcante entre “nossos rituais” e os de outras culturas está no tempo que a sociedade oferece para essa transição. O que para muitos povos se dava, ou se dá, em um tempo curto, estende-se, aqui entre nós, por muitos anos.
Adolescência é coisa muito recente na história. Até antes da Segunda Guerra Mundial não havia esse personagem dominando as preocupações dos pais. Havia os jovens, mas não a legitimação de comportamentos estranhamente peculiares atribuídos às pessoas nessa faixa etária. As primeiras gerações de adolescentes, os teenagers, tinham entre os 13 e os 19 anos para exercerem o que se esperava deles: serem malcriados, isolados, agrupados, fechados, fazerem besteiras, transgredirem, se aventurem. Enfrentavam os pais, na legítima luta para crescer e encontrar seu estilo de vida, seus valores.
De repente, constatamos que o final desse período já não respeita mais o limite dos teen. Dos 19 (nineteen), a adolescência foi se estendendo para os 20 e poucos, quase30. A liberdade e o prazer de cuidar da própria vida são trocados pelo conforto que a casa dos pais oferece. O constrangimento dos pais participando das contingências da vida sexual de seus filhos adultos é compensado por um bom café da manhã à mesa. Ainda que isso possa parecer infantil, são pessoas adultas, responsáveis por seus destinos.
Só que agora há uma situação bem mais séria: a expansão da adolescência para o outro lado da linha do tempo, o lado da infância. Vemos crianças colocadas no lugar da contestação, no que parece uma luta pelo domínio precoce de seu destino, como se quisessem destituir os pais de seus lugares de adultos confiáveis e cuidadores.
São pessoas ainda sem a menor condição física, intelectual ou afetiva de se bancarem, agindo e ocupando o lugar de desregramento que antes cabia aos adolescentes. Esse lugar, que pertencia a um pessoal que, ainda que de forma tosca, já tinha condições de tocar suas vidas com alguma propriedade, passa às mãos de uma turminha ainda muito necessitada de boa oferta de regras, apoio, referências, enfim, de modelos identificatórios que precisam ser vividos, assimilados, introjetados, para só então fornecerem a matéria prima a ser questionada, revolucionada.
Nas famílias, os dois lados da situação. De um lado, pessoas que acabaram de aprender a controlar seu corpo no que é o ponto principal de sua entrada na vida social: o controle dos esfíncteres. Pessoas que se descobrem em um corpo sexuado diferente do de outro grupo de pessoas, que começam a desenhar seu corpo – o que expressa seu reconhecimento de uma identidade física e psíquica. E todo esse processo no caminho da humanização, se dá, naturalmente, com lutas. Impossível não surgirem impasses em uma casa com mais uma pessoa dizendo eu – e por isso podendo dizer eu quero, eu não quero. Uma pessoa que substitui um bebê sobre o qual nós falávamos tudo: ele está com fome, ele está com cólica.
Do outro lado, pais perdendo o controle sobre o lugar que devem ocupar diante de seus filhos. Sofrendo para harmonizar os eus em um mundo onde todos devem ser felizes e perfeitos, onde o consumo impera, onde a lei é “farinha pouca, meu pirão primeiro”. Ter filhos hoje é mais difícil do que nunca. No mundo supostamente ideal que nos vendem como alcançável e ao qual deveríamos nos adequar, tudo é só amor, roupa nova, carro espetacular, rosto sem rugas. Nesse mundo, aliás, não cabe gente de verdade. Nós somos amor e raiva, dor e prazer, tristeza e alegria, cheirosos e fedidos e todas as nuances infinitas que cabem entre essas dicotomias. E as crianças de três anos nada mais querem que ser gente, filhos de gente, com todas as suas contradições. As crianças, ao contrário dos adolescentes, não querem ser diferentes, querem ser iguais e agradar aos pais.
Elas não têm a potência e a consciência necessárias para mudar o mundo e agir sobre ele, embora possam transformar suas famílias, seus pais e, por isso, estes são necessários, com sua experiência e sua própria dualidade, para acolhê-las como pessoas. E acolher não é submeter, nem pais ou filhos, é se solidarizar e conviver no nosso mundo, o das pessoas de verdade, pessoas que, mesmo quando adultas e já pais, às vezes perdem as estribeiras – afinal são de verdade –, mas que podem refletir, mudar e se desculpar com sinceridade.
Tanto a criança em torno dos três anos quanto o adolescente estão em fase de transformações profundas – a entrada na infância e na vida adulta –, mas os pequenos não buscam o novo, muito pelo contrário, não querem mudar nada, não têm posições de vida diferentes das dos adultos e, ainda que já possam dizer eu gosto, eu não gosto, essas asserções são muito mais perguntas do que a expressão de opiniões inegociáveis que levem a impasses ou mudanças essenciais. Crianças buscam apenas o reconhecimento de si mesmas e a aceitação para seu jeito de ser mais uma pessoa no mundo, igual e diferente de todos os outros humanos.

A vida com crianças, das psicólogas Julia e Lulli Milman, toma como base todos os aspectos que norteiam as relações familiares para refletir, levantar questões e, sobretudo, orientar nos diversos assuntos que acompanham os pais nesse grande desafio que é criar filhos.
As psicólogas Lulli Milman - que por 30 anos foi supervisora do curso de graduação em Psicologia da UERJ - e Julia Milman - mestre em Políticas Públicas e Formação Humana, e diretora-executiva da ONG Casa da Árvore - são mãe e filha, e escreveram juntas o livro A vida com crianças. Na coluna que leva o mesmo nome, as autoras buscam discutir temas recorrentes no cotidiano daqueles que cuidam e convivem com crianças.
- Seções em destaque
- Da Casa
- Diários do isolamento
- Entrevista
- Eventos
- Lançamentos
- Listas
- Notícias
- Rádio Companhia
- Sala do Editor