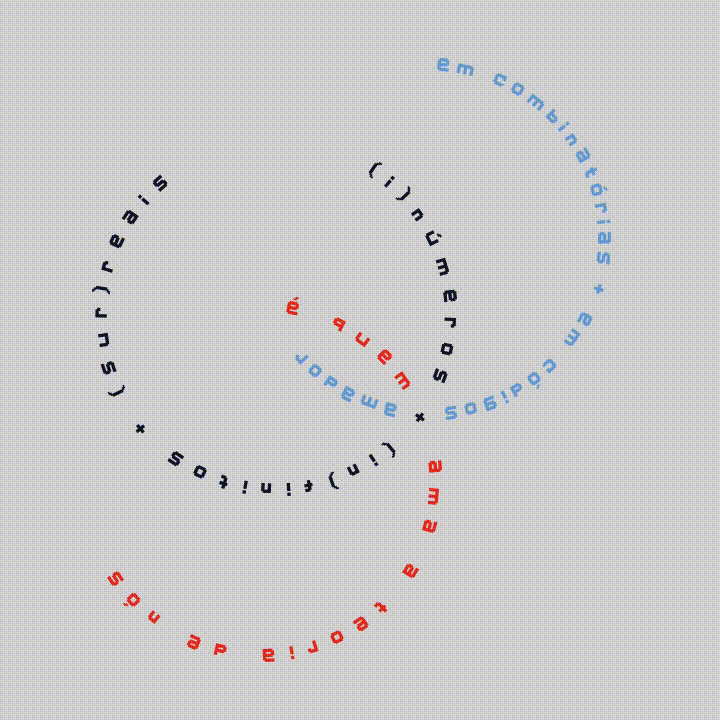A palavra do ano de 2020

Foram tantos anos em um só que o Dicionário de Oxford não conseguiu eleger um único termo como “palavra do ano” de 2020. A tradicional escolha dos dicionários de língua inglesa, que já nos deu “tóxico”, “pós-verdade” e “emergência climática”, ficou dividida entre expressões relacionadas à Covid (“pandemia” no Merriam-Webster, “lockdown” no Collins), à crise do clima (“queimada”, para o Oxford em janeiro, quando a Austrália tostou), à luta antirracista (“vidas negras importam”, também para o Oxford) e à vida digital (“cultura do cancelamento”, idem).
As publicações da língua portuguesa não têm esse serviço expresso de sentinela lexical, mas, se tivessem, minha candidata a palavra do ano de 2020 seria “normalizar”. O verbo se infiltrou discretamente em nossas vidas e embotou nossas almas neste ano catastroficamente extraordinário no qual parecemos ter perdido a capacidade de nos espantar.
O Houaiss define “normalizar” como verbo transitivo direto e indireto e pronominal, que significa “fazer voltar ou voltar ao estado normal, à ordem; regularizar(-se)”. Há também o sentido matemático de “ajustar”, “corrigir”, como quando se extrai o viés de um dado. No sequestro semântico dos tempos recentes, “normalizar” significa tratar como banal aquilo que deveria ser escandaloso, aceitar o inaceitável, fechar a conta mesmo sem a correção.
Observadores atentos poderiam contestar que “negacionismo” deveria ser a palavra do ano. Ela define a atitude do governo federal do Brasil (e, sinto estragar o Natal com a lembrança, mas de um terço dos brasileiros também, incluindo aquele seu ente querido) em relação à pandemia, às queimadas, ao aquecimento da Terra e a fatos evidentes em geral. É uma concorrente forte, admito. Mas o negacionismo é apenas a casca de banana que nos atira o bando de sociopatas que ocupa o poder no país. A normalização é o que nos faz escorregar e bater a cabeça.
Em novembro, a imprensa revelou que 6,8 milhões de testes de coronavírus estão encalhados no Ministério da Saúde e perdem a validade em janeiro. O Brasil é o segundo país do mundo onde mais morre gente por Covid e o 86o em testes para o vírus (e, sim, o primeiro fato é decorrência direta do segundo). Em qualquer outro país ou em qualquer outra época, o ministro responsável por essa falha – um general da ativa – estaria demitido no mesmo dia e preso na semana seguinte. Lembram de quando tapioca em cartão corporativo derrubava ministro? No Brasil de 2020 a notícia passou dois dias na primeira página e mais ou menos sumiu. O general não apenas segue no cargo, como seu secretário-executivo reagiu à nova aceleração de contágios e mortes receitando óleo de cobra para os infectados em cadeia nacional. Até nos Estados Unidos receitar tratamentos precoces sem comprovação é ilegal. Normalizamos a ausência de autoridades sanitárias federais na pior crise sanitária do século.
Normalizamos mais de 170 mil mortes, imensa parte delas evitáveis, e decretamos o retorno à vida normal, com máscaras no queixo. “Todo mundo vai morrer um dia” é a frase diabolicamente genial do sociopata-em-chefe que autorizou shopping centers, bares e aeroportos lotados, multidões nas praias. Dita por qualquer pessoa, trata-se apenas de estultice. Na boca do Presidente da República, é política de Estado. Fala-se agora em “segunda onda” como se tivéssemos um dia superado a primeira. Idosos do meu círculo pessoal têm reagido com fatalismo à retomada: quem tiver de morrer morrerá. Afinal, todos vamos um dia.
Normalizamos um governo que é contra a vacinação em massa da população, que é capaz de negar a compra de uma vacina para seus cidadãos porque talvez-quem-sabe isso poderia dar algum trunfo político a um sujeito que talvez-quem- sabe possa ser seu rival em 2022. Enquanto os países desenvolvidos iniciam a vacinação em massa, nós tomamos um ultimato das fabricantes dos imunizantes mais promissores. O Brasil caminha para ser o último território livre para o coronavírus. Normalizamos também isso e, desta vez, não vimos nem mesmo a notinha de repúdio do presidente da Câmara, o nosso Neville Chamberlain. Virou lugar-comum chamar o doente mental que nos governa de “genocida”, mas certo mesmo seria nos considerar a todos suicidas, por permitir que ele siga no poder.
“Genocídio”, por Covid, por bala de fuzil e por asfixia, é o que impomos à maioria preta e parda dos brasileiros. Este é normalizado há quase cinco séculos no últimos país escravagista das Américas. Achamos que o Brasil entraria em convulsão por Paraisópolis, por João Pedro Matos, por Beto Freitas, por Emily e Rebeca dos Santos. Achamos que o Brasil seria contaminado enfim por algo de bom vindo dos EUA, o movimento Black Lives Matter. Não aconteceu.
Normalizamos também o ecocídio. Perdemos 30% de um bioma e tudo bem. Transformamos em folclore o fato de o ministro do Meio Ambiente ter declarado em público, numa reunião de comparsas, que pretendia usar a distração da imprensa com os mortos da Covid para “passar a boiada” nas regulações ambientais e “dar de baciada” nosso patrimônio aos predadores. Esse ministro não apenas segue no cargo como é um dos nomes mais fortes do governo. E está tão empoderado que se julga no direito de, num movimento sem precedentes, usar a Advocacia-Geral da União como sua banca particular de advogados para perseguir desafetos (algo admitido por lei, mas raramente feito, em nome do decoro no cargo, essa coisa que caiu de moda). Não faz uma semana, foi qualificado como uma “liderança ambiental polêmica” por um grande jornal. “Liderança”. “Polêmica”.
Até mesmo a imprensa, cronista inarredável da nossa desgraça, se debate na areia movediça da normalização. O jornalismo praticado em Brasília, disposto a engolir algumas cascatas das fontes em troca de informação exclusiva e relevante lá na frente, foi sequestrado pelo populismo como o maquinário de uma célula é sequestrado pelo coronavírus. Segue funcionando do mesmo jeito, usando os mesmos métodos, mas, sem notar a mudança fundamental da gramática do poder, vem amplificando o engajamento do regime. Tornou-se veículo de replicação dos memes - na acepção original do termo – da extrema-direita. Para piorar, os empresários de mídia parecem acometidos de um caso grave de síndrome de Estocolmo em relação a Paulo Guedes. Insistem em que a condução da política econômica possa ser separada do fascismo. E tentam enxergar, editorial após editorial, “inflexões à moderação” do inquilino do Planalto com a mesma fé de quem enxerga Jesus em fatias de pão. Ele não fechou o Congresso hoje, irmãos! Aleluia!
2020 termina com gente exausta, acuada, enlutada, empobrecida e cínica. Sem reação à altura dos tais “freios e contrapesos” diante dos abusos em série de um maníaco. Não há no horizonte o menor sinal de protestos maciços de rua em 2021. Tudo pode mudar, mas jamais se viu um caldo tão bem temperado de convulsão social seguir fervendo sem entornar. Tudo normal por aqui.
Feliz 2021. Ou não.
***
Claudio Angelo nasceu em Salvador, em 1975. Foi editor de ciência do jornal Folha de S.Paulo de 2004 a 2010 e colaborou em publicações como Nature, Scientific American e Época. Foi bolsista Knight de jornalismo científico no MIT, nos Estados Unidos. Lançou, em 2016, pela Companhia das Letras o livro A espiral da morte, sobre os efeitos do aquecimento global, ganhador do Prêmio Jabuti na categoria Ciências da Natureza, Meio Ambiente e Matemática.
- Seções em destaque
- Da Casa
- Diários do isolamento
- Entrevista
- Eventos
- Lançamentos
- Listas
- Notícias
- Rádio Companhia
- Sala do Editor